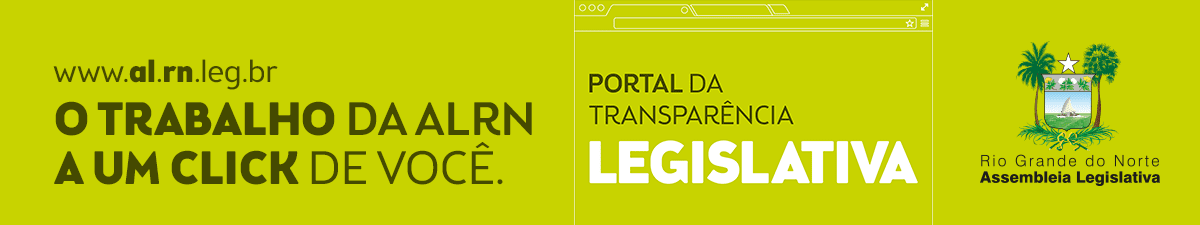O prazo médio dos títulos da dívida pública brasileira emitidos desde janeiro de 2020 caiu à metade, de 4,7 anos para 2,4 anos, refletindo o aumento da desconfiança de investidores em relação à solvência do país.
Com isso, em apenas um ano os vencimentos em doze meses praticamente dobraram, de R$ 553 bilhões para R$ 1,02 trilhão, atingindo quase 25% da dívida total.
Os juros exigidos pelo mercado para refinanciar o governo também aceleraram, sobretudo nas últimas semanas e dias, mesmo para os papéis com vencimento mais curto.
Para papéis mais longos, de dez anos, a taxa exigida pelos investidores encosta em 9% —e sobe mês a mês. No fim de agosto, eram 7,8%.
Para que a dívida não saia do controle com juros crescentes, o Tesouro vem encurtando sistematicamente seu prazo, já que papéis vencendo mais cedo limitam, para quem os compra, o risco de não receberem seu dinheiro se o país ficar insolvente mais à frente.
Mesmo assim, para títulos com vencimento em pouco mais de 12 meses, o “prêmio” exigido pelo mercado se aproxima de 1 ponto acima da Selic de 2%.
Juros maiores, mesmo em prazos curtos, pressionam a dívida pública. Eles também limitam, com o tempo, a capacidade do Tesouro de suportar um endividamento recorde, que atingirá 95% como proporção do PIB (Produto Interno Bruto) no final de 2020.
Com um volume maior de papéis de curto prazo, o mercado poderá também exigir mais juros do Tesouro para refinanciar a dívida quando os títulos vencerem.
Os juros em alta encarecem ainda outras dívidas e empréstimos à produção e ao consumo, pondo em xeque a recuperação da atividade e do emprego, que seriam fundamentais, nos próximos meses, para substituir o impulso fiscal recorde do governo para enfrentar o coronavírus —como o do auxílio emergencial.
Segundo especialistas, a dívida cada vez mais curta e cara reflete a desconfiança do mercado na capacidade do governo de honrá-la e as “barbeiragens” da equipe econômica na condução das reformas e na busca de fontes de financiamento para programas sociais.
Isso tem levado também muitos investidores a se protegerem comprando dólares. A moeda norte-americana acumula alta de cerca de 40% em 2020; e o real é a moeda que mais se desvaloriza no mundo atualmente.
Outra fonte de deterioração dos fundamentos econômicos, o dólar caro pressiona preços de importados e de commodities internacionais, com impactos na inflação, sobretudo para quem produz.
Caso essa alta se dissemine pela economia, o Banco Central pode ver-se obrigado a aumentar os juros para remunerar investidores acima da inflação e controlar os preços, esfriando a economia e elevando o endividamento.
Cerca de 60% da dívida pública é indexada à inflação e a juros pós-fixados, que a acompanham.
Em 12 meses, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), da FGV, muito influenciado pelo dólar, alimentos e commodities, sobe 25,3%.
Caso as empresas não consigam repassar esses custos aos consumidores, mesmo reduzindo margens de lucro, o risco é que elas cortem a produção e demitam, comprometendo mais a economia.
No caso dos alimentos, que têm demanda mais inelástica, já que as pessoas continuam se alimentado, os repassem têm ocorrido com mais força.
Como o principal indicador de controle do endividamento público é sua proporção em relação ao PIB, se a economia não crescer e os juros seguirem aumentando, a dívida subirá —piorando as condições de seu refinanciamento e o crescimento, num ciclo vicioso.
Com esse pano de fundo, economistas alertam que a margem de manobra do Banco Central e do Tesouro está se estreitando, ameaçando não só a recuperação, mas a manutenção da Selic em seu menor patamar histórico.
Na semana passada, a proposta de usar dinheiro de dívidas judiciais (precatórios) para criar o Renda Cidadã e a disputa entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, sobre como financiar o programa, agravaram o quadro.
Com o governo Jair Bolsonaro agora flertando com a ideia de o país endividar-se mais para bancar despesas correntes, o dólar e os juros voltaram a subir e a Bolsa caiu, em movimentos nocivos para a recuperação da economia.
Na quinta, o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que os juros podem subir se o governo deixar de respeitar o chamado teto de gastos —principal ponto de discórdia entre Guedes, que afirma querer mantê-lo, e Marinho, que, segundo relato a investidores, defende a sua flexibilização para poder gastar mais.
O teto de gastos, que limita o aumento da despesa pública ao corrigi-la apenas pela inflação, funciona como uma “âncora fiscal” desde o fim de 2016, evitando que a dívida pública saia do controle.
Para o economista Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central, o endividamento brasileiro está tomando uma trajetória insustentável, explicitada cada vez mais no encurtamento de seu prazo e no aumento dos juros futuros.
“É até natural que o mercado aceite e conviva com um encurtamento do prazo da dívida em momentos difíceis, como agora, mas é preciso que o governo use esse tempo para fazer alguma coisa”, afirma.
“Sem isso, teremos à frente um período de grande volatilidade, com tendência de piora.”
Segundo José Márcio Camargo, professor da PUC-Rio e economista-chefe da Genial Investimentos, a reação negativa do mercado financeiro, na semana passada, à proposta “sem cabimento” dos precatórios e às disputas no governo “até que foi amena”.
“Os investidores já estão comprando dólares para sair da dívida pública. Aumentar o endividamento só piora as coisas, pressionando ainda mais os juros”, afirma.
Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, diz que os juros altos, sobretudo para prazos mais longos da dívida, vão contaminando outros custos de financiamento no mercado, inibindo projetos maiores e de longa maturação.
Os economistas avaliam que antes de o governo começar a colocar em dúvida seu compromisso com o teto e o controle da dívida, havia a compreensão do mercado de que o endividamento aumentaria com a pandemia; como ocorre em vários países.
“O mercado vinha aceitando sem grande estresse a ideia de um ajuste fiscal que pode levar alguns anos. O que não dá é o governo questionar o que hoje segura as expectativas; e não ter um plano para lidar com déficits crescentes”, diz Tony Volpon, economista chefe do banco UBS BB.
Segundo ele, a falta de empenho da equipe econômica em propostas como a PEC Emergencial (que prevê cortes de salários de servidores quando o teto estiver ameaçado) a na reforma administrativa (para conter gastos futuros com o funcionalismo) é sinal “muito negativo”.
Entre janeiro e agosto, o déficit primário (sem contar juros da dívida) do setor público consolidado atingiu 12,1% do PIB (ante apenas 0,46% em igual período de 2019), chegando a R$ 549 bilhões. Desse total, R$ 212,8 bilhões referem-se ao auxílio emergencial pago entre abril a agosto.
Com isso, a dívida pública bruta saltou de 75,8% do PIB no final do ano passado para 88,8% em agosto —com previsão de chegar a 95% do PIB no final do ano.
Para o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, o Brasil tem, basicamente, três alternativas à frente:
- Perseverar no ajuste fiscal e nas reformas para controlar a dívida pública e acelerar o crescimento;
- Aumentar impostos para pagar novas despesas correntes, como o Renda Cidadã;
- Deixar a inflação subir, diminuindo a dívida ao corrigi-la por uma taxa menor que a do aumento de preços —mas com impactos muito deletérios sobre a credibilidade do país e, sobretudo, na renda dos mais pobres.
Na opinião dos economistas, o governo Bolsonaro ainda tem tempo para evitar um desarranjo macroeconômico maior. Mas, para isso, teria de se comprometer mais com o controle do déficit e da dívida pública.